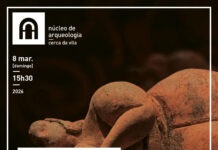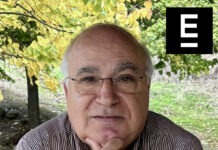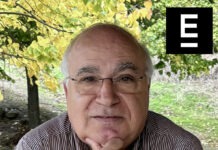Estimado leitor, como já nos escrevia Cervantes, «sem juramento me poderás crer que quisera que este [texto], como filho do entendimento, fosse o mais formoso, o mais galhardo e o mais discreto que pudera imaginar-se» (1). Infelizmente, tempos há em que os acontecimentos atropelam as intenções e – a realidade – crua, feroz, virulenta, impende, tal espada de Dâmocles, sobre as nossas cabeças mais ou menos cobertas pelo substrato piloso. O susto pela ambiguidade, a encenação da desgraça, vêm-se locupletadas na velha confusão entre riscos e catástrofes. Sendo o risco mundial a encenação da desgraça, como nos descreve Beck, redige-se o diagnóstico como «uma profecia que se contradiz a si mesma» (2). Ou seja, anuncia-se a luta que o homem trava para que os seus piores receios não se concretizem.
A confiança no verdadeiro é, mais do que nunca, fundamental para a sobrevivência dos seres humanos, lê-se em Eco (3). Transcrevendo: «se não pensássemos que os outros, quando nos falam, nos dizem o verdadeiro ou o falso, não seria possível a vida em sociedade» (4). Curiosamente, na história das ciências cindínicas (ou ciências do perigo) é comum defender-se que, até Rousseau, «a humanidade admitia o perigo sem o questionar» (5). Era a fase em que se pensava em Deuses, caprichosos e vingativos, fazendo das suas sobre a humanidade, sem que houvesse forma de perceber, ou evitar, as catástrofes inesperadas ou anunciadas. Numa polémica entre este mesmo Rousseau e Voltaire, na sequência do nosso famigerado terramoto de 1755, sedimentou-se a ideia de que as coisas não eram bem assim. Assim, nos dias de hoje, mesmo para quem já não acredita nesses mesmos Deuses, é estulto considerar que as Senhoras de Fátima ajudam mesmo aqueles que não fazem nada para evitar e/ou morigerar os efeitos da adversidade. Ou, na versão mais soft, há que confiar no célebre adágio, «não leves a manta…».
Parafraseando Camus, o que é mais original na nossa cidade, diria até nas nossas vidas, é a dificuldade que lá se encontra em morrer: «Na nossa pequena cidade, talvez por efeito do clima, tudo se faz ao mesmo tempo, com o mesmo ar frenético e distante. Ou seja, as pessoas aborrecem-se e aplicam-se a criar hábitos» (6). Ou, pelo menos, assim era até há uns dias atrás. Um sussurro distendeu-se das conversas de café e do trabalho para os ecrãs da televisão, para as redes sociais, para os diálogos à mesa do jantar e, como um véu de incerteza, cobriu as nossas preocupações com um dos seus mais velhos receios: o medo da doença e da morte. «Os rumores duplicam, como a voz e o eco, os números dos que temem», declamava Shakespeare (7). E assim, com mais ou menos confiança no funcionamento das instituições, o medo instala-se entre todos, mesmo os mais intemeratos.
Todavia, numa clara alusão aos princípios base da vida em sociedade, parece que conquistámos o direito ao medo sem a sua contraparte que é o dever de acção. Ou seja, como se entende no domínio da Protecção Civil, parece que nos esquecemos de, enquanto cidadãos bem informados e solidários, sermos o primeiros agentes na prevenção dos riscos colectivos e na atenuação dos seus efeitos em situações de emergência (8). Devemos estimular o isolamento inteligente sim, não como fundamento de receios, mas como demonstração de cidadania e, logo, como instrumento de saber estar em sociedade. Podemos demonstrar e anunciar preocupação sim, mas sem sermos correia de transmissão ou caixa de ressonância de alarmismos e/ou boatos. Queremos ter o mínimo de artigos necessários nas nossas dispensas para atender às necessidades correntes, com alguma margem tolerável, mas não devemos esgotar, a título de exemplo, o papel higiénico nas superfícies comerciais, para que não se julgue, como alguns já adiantam, que cultivamos uma estreita ligação entre o intestino grosso e o nosso «ego consciente», para usar uma expressão de Descartes. É o que separa a paranóia e o individualismo do sentido de responsabilidade em sociedade, da cidadania e da civilidade.
Terminando como se começou, o risco mundial enquanto a encenação da desgraça, afirme-se que a «a antecipação da catástrofe altera o conceito de sociedade no século XXI» (9), nas palavras de Beck. Esta pode e deve ser combatida com atitudes que sejam geradoras de um novo «momento cosmopolita» para a vida da Humanidade: «Os riscos globais confrontam-nos com o outro aparentemente excluído. Derrubam fronteiras nacionais e misturam o nativo com o estrangeiro. O outro afastado torna-se o outro interno – não na sequência da migração, mas sim de riscos globais. O quotidiano torna-se cosmopolita: as pessoas têm de atribuir sentido à sua vida no intercâmbio com os outros, e não no encontro com os seus semelhantes» (10).
Temos, autenticamente, a burra nas couves, o caldo entornado, uma emergência global de características e consequências ainda por definir e descrever com dimensões exactas. Contudo, tal como todos os perigos, o desafio também encerra uma oportunidade. Assim, saibamos meditar e colocar em prática a sucinta ideia contida neste célebre reflexão: «Porque razão me sinto tão bem? (…) Não tenho queijo nem sei para onde vou. (…) Parou e escreveu na parede: QUANDO ULTRAPASSAS O TEU MEDO, SENTES-TE LIVRE» (11). Que Assim seja!
João Gonçalo de Bianchi Villar (Pós-graduado em Gestão de Protecção Civil Municipal)