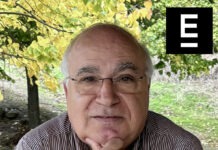A questão da segurança pública, nos vários módulos que comporta, desde a criminalidade mais acesa, violenta e feroz, aos assaltos junto às caixas multibanco e a extorsão de rua ou junto a supermercados, e até à que se sente nas próprias ruas naquele sentimento difuso de mal-estar em determinados locais, é já há algum tempo um ponto sensível e um caso na vida social do Entroncamento. Não é de agora. Mas tornou-se mais óbvia, visível e mediática sobretudo após a forma dramaticamente gratuita em como a pequena Beatriz foi vitimada no início deste ano, algo que trouxe uma verdadeira comoção e revolta para a comunidade.
Mas a verdade é que a insegurança já era um caso patente há algum tempo, e esteve até presente na forma em como o partido Chega, de André Ventura, obteve votações impressionantes na cidade, e com o seu significado latente, nas últimas eleições legislativas e autárquicas no Entroncamento, e até muito antes. O caso passou para a agenda política local, alguns setores da oposição têm focado nela a sua atuação, fazem comunicados e exercem pressão, outros assobiam para o lado, mas a verdade é que a gravidade progressiva de que dá sinais acabou por originar há poucas semanas a convocação de uma assembleia municipal para filtrar o caso, que, para além dos representantes municipais, mereceu também a presença de responsáveis das autoridades policiais.
É frequente, e até um pouco gratuito, atribuir os motivos desta insegurança a algumas minorias. É um preconceito um pouco irresponsável este de tudo universalizar e generalizar, que dá origem a respostas fáceis, e quase sempre falsas, para o caso bastante mais complexo da criminalidade, que está muito longe da habitual resposta pronta e estereotipada. Ultimamente, e fruto da proximidade do Entroncamento a Lisboa, da evolução dos mercados de trabalho e das várias crises económicas, sociais e bélicas que varreram algumas partes do mundo (mais ainda que Portugal), o Entroncamento tem acolhido, nalguns casos com ações de verdadeira filantropia, naturais e refugiados de várias partes do planeta. A cidade que, desde as suas origens vincadamente ferroviárias nos meados do século XIX, sempre foi uma urbe aberta a outras comunidades em Portugal e do estrangeiro, acolheu nos últimos tempos um considerável número de cidadãos, de uma forma geral jovens e em idades ativas, provenientes em especial do Brasil, de países que foram antigas colónias portuguesas (como Angola e Cabo Verde), da Ucrânia (bastante reforçado este ano com os refugiados da ignominosa invasão russa ao país), e também da China, da Índia e do Paquistão, entre outras nacionalidades. Tenho amigos franceses que vieram viver para cá, porque com a sua reforma francesa viveriam mal em França, mas cá, porque o custo de vida é mais baixo, vivem “à francesa”…
É hoje relativamente comum alguém na cidade seguir por uma das ciclovias urbanas, ou sentar-se numa esplanada, num café ou noutro espaço mais ou menos público, e sentir que está numa Torre de Babel de dialetos, sotaques, crioulos, etnias e realidades geoculturais distintas, nalguns casos com falas absolutamente incompreensíveis e impenetráveis. Há quem coloque esta situação a montante de alguma instabilidade social e da insegurança que se sente (ou se tem a perceção de sentir). Mas isso não só é confundir a nuvem com Juno, como é uma abordagem que não conduz a algum tipo de resolução dos problemas. Está na natureza do Entroncamento ser assim, é uma cidade aberta, e em certo sentido até um local onde predominam as raízes adventícias da maioria de nós. Sempre foi assim. E é a partir desta matriz essencial que se devem procurar as estratégias e as soluções para a melhoria do clima social.
A diversidade geográfica das proveniências dos cidadãos que hoje vivem e trabalham na cidade, e onde até já predominam até nalguns setores laborais, podia ser, na teoria, um importante fator de enriquecimento cultural, social e até económico de todos nós no Entroncamento. Sair do país para conhecer outros povos, culturas e formas de ver o mundo, e vivê-las, é sempre um aspeto de enriquecimento cultural para quem fizer essa viagem ou nela se demorar mais. Mas uma cidade cosmopolita, como, à sua escala, o Entroncamento sempre tem sido, oferece também, pela inversa, uma excelente multiculturalidade aos seus cidadãos. Quem chega, venha do Sertão, de Minas Gerais, de São Nicolau, de Lahore ou fugindo do coração da guerra na Ucrânia, pode trazer os seus mundos e compartilhá-los com os entroncamentenses, que também terão as suas histórias para contar e os provérbios portugueses para dizer. Este fenómeno é próprio do ser humano, e tem um nome ̶ interculturalidade ̶ com bastantes vantagens para quem às suas virtudes se expõe, mas não é a ela que temos assistido no Entoncamento, onde os diversos grupos étnicos, nacionais, linguísticos e até sociais, que chegam (ou já cá vivem) se fecham sobre si próprios e segregam depois uma carapaça de quitina à sua volta. E em vez de experiências de multiculturalidade, oferece-se uma cidade multiguetos, em que cada grupo nacional ou étnico se fecha sobre si mesmo, vê nos outros ameaças, e procura nessa blindagem, onde prevalece a homogeneidade interna e o espírito tribal, uma já antiga forma de proteção.
Diz-se, normalmente, que isso é próprio do ser humano, já provêm da mentalidade tribal nas cavernas, a recoletar, e nas caçadas aos veados e aos ursos, que somos assim, e procuramos refúgio nas grutas e junto dos que nos são semelhantes. E há ainda o fator linguístico. Em relação ao primeiro reparo, apenas argumento que já estamos no século XXI e que o neocórtex já cresceu um pouco, tornando as atitudes tribais um pouco anacrónicas, e as cavernas um pouco obsoletas para morar, são melhores para os morcegos… E em relação à língua, pronúncias à parte, ela une-nos a muitos dos novos entroncamentenses, e os refugiados da Ucrânia já aprendem a língua de Camões e Pessoa na cidade, e há ainda o Inglês para fazer pontes a quem se queira entender. Quando há uns anos o Entroncamento adotou a divisa de “Uma Cidade para as Pessoas” acredito que não se estivesse a pôr ninguém de fora. Mas há um problema. E alguns pequenos sinais…
Muitas vezes, quando há problemas (como os de segurança), a dificuldade não é a das pessoas, é da cultura e do ambiente em que vivem. E quando alguém chega de novo (ou já permanece há algum tempo) a algum lugar (uma escola, uma empresa, um grupo de ioga ou de caminhadas rurais ou uma cidade são bons exemplos) há de gostar de ser reconhecido como pessoa e sentir que faz parte dela, sendo que para esta aproximação, tal como no tango, é preciso reciprocidade, são precisos dois, no caso que procuro definir, quem chega para trabalhar e a cidade que essa pessoa escolheu. E o que deve, ou deveria, surgir é química, numa mistura equilibrada de endorfina, oxitocina e adrenalalina, algo com as quais o imigrante sentisse que já era pertença de algo maior que si próprio, e a cidade dissesse: “Sê bem-vindo, tu e os teus têm aqui um bom lugar para viver, trabalhar, investir e estudar”.
O ser humano é assim, gosta de ver o seu semelhante a tomar conta de si, de pertencer a algo maior que si, e para o qual possa contribuir com o seu melhor. O processo é bastante complexo, mas acredito que poderia começar por aqui uma boa parte da resolução do problema da segurança local. Se todos nos sentirmos incluídos, e ninguém excluído, não há o nós e os outros, nem choques frontais, nem a mentalidade tribal, que é a fonte de tantos conflitos. E para prosseguir esta ideia é preciso dar pequenos sinais de que há quem pense em nós. Por exemplo, no programa de festas da cidade, que nunca tiveram um critério que fizessem delas uma marca de qualidade, seria interessante englobar, por exemplo, músicos de qualidade brasileiros, da Ucrânia, alguma trepidante fanfarra gitana ou músicos de Cabo Verde e de Angola. Acredito que seria uma emoção para os emigrantes desses perímetros no Entroncamento, e decerto para nós, que também temos um bom naipe de músicos de forma a dar-nos a conhecer através da nossa música, que é sempre um bom princípio de conversa.
Em 1927, numa investigação que ficou conhecida como a Experiência de Hawthorne, coordenada pelo médico e investigador Elton Mayo, a Western Electric Company, uma grande fábrica de Chicago, numa época em que as empresas se preocupavam com e bem-estar dos seus empregados e dos seus ordenados mensais, quis analisar as relações entre a produtividade e a segurança dos operários e as alterações nas suas condições de trabalho. E, assim, os investigadores foram mudando algumas das variáveis da forma em como as pessoas laboravam, como por exemplo a luminosidade dos espaços, os intervalos de descanso, e aspetos como os lanches, as relações humanas, a rotatividade laboral e o ambiente emocional no trabalho. Em determinada fase da experiência (e não pretendo obviamente descrevê-la em pleno), aumentava-se a iluminação do espaço de trabalho e a produtividade aumentava, mas quando os pesquisadores inverteram a situação, antecipando que a produtividade diminuiria, assistiram a um novo acréscimo na produção dos grupos de operários. E procuraram entender as razões desta inesperada discrepância, verificando que era sobretudo de natureza psicológica, tendo os operários admitido que produziam mais porque sentiam que havia alguém que se preocupava com eles e com as suas condições de trabalho, havia quem lhes desse tempo e atenção. A pesquisa foi há 95 anos, mas, mutatis mutandis, a sua verdade permanece. E era interessante dar-lhe, a ela mesmo, algum tempo e atenção.