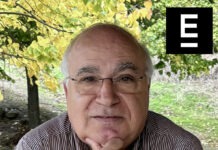O constrangimento de ficar confinado em casa faz do mundo, que já tinha ficado mais pequeno desde o início de 2020, e esta semana de Páscoa fica ainda mais diminuído, limita-nos de muitas formas, mas também abre o caminho a muitas alternativas secundárias, que de outro modo nunca seriam trilhadas. Quaisquer delimitações ou condicionalismos que são impostos à nossa liberdade (aos nossos hábitos comuns) trazem quase sempre no seu âmago uma oportunidade para espreitar por frestas e encontrar opções que oferecem as suas compensações e contrapartidas consideráveis. Quantas obras-primas em muitas artes foram geradas quando se ditaram restrições ou confinamentos (por vezes muito sérios e graves) aos seus autores? Por alguma lei ainda pouco estabelecida, quando algo nos é subtraído, se olharmos de forma sensível e atenta, há sempre boas oportunidades que então surgem e se oferecem. E por vezes superam o valor da perda. Não é quando perdemos a saúde que mais valor lhe damos? Não é quando nos é retirada a liberdade que mais sentimos a sua importância?
As condições de quarentena e de afastamento social e dos hábitos comuns, que são a nossa segunda natureza, levaram-me por puro acaso, a ouvir músicas de discos que já não ouvia há décadas. E a agulha do meu velho Garrard voltou a deslizar surpreendida sobre os vinis e a mostrar 30 anos depois que ainda é capaz de extrair uns sons analógicos dos velhos LP dos primeiros Pink Floyd, dos Amon Düül II, dos Third Ear Band, de John Surman, Leonard Cohen ou de Gustav Mahler. Nunca mais os ouvira vindas das espiras negras, trouxeram renovadas emoções, e algumas saudades pelas histórias que a sua memória sempre convoca. E há também dois livros que podem estar anos longe, mas, quando há mais tempo e disponibilidade mental, sempre me vêm parar às mãos. Foram alguns os livros que sorvi na minha vida e me ajudaram a ser a pessoa que sou, mas a minha adolescência não seria a mesma sem o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e 1984, de George Orwell. Duas distopias depressivas e, simultaneamente, estímulos excitantes, quer pelo que diziam, quer pelo espaços em branco do que não diziam, e deixavam ao leitor para reflexão e deslumbramento. Folheio-os brevemente com alguma frequência, mas nunca os voltei a reler integralmente por recear que uma nova leitura viesse macular a marca de epifania, quase sagrada, excelsa e superior que deixaram na minha juventude.
As duas leituras são particularmente estimulantes. O Admirável Mundo Novo, publicado em 1932, é a visão de um futuro ao mesmo tempo admirável e pungente. Nela, os cidadãos divididos por castas são inevitavelmente resignados e felizes, quanto mais não seja por recurso a uma droga, chamada “soma”, a noção de família não existe, e ter um filho era uma obscenidade indesculpável. É uma sociedade puritana e muito sexualizada, que a um tempo admiramos e nos repugna, é cientificamente muito evoluída, mas nela muitos de nós não gostaríamos de viver, apesar de aparentemente termos a certeza garantida de que seríamos felizes. No ensaio 1984, com edição datada de 1949, pouco tempo depois de terminada a II Guerra Mundial, George Orwell, que curiosamente foi aluno de francês de Huxley em Eton, inventa o arquétipo de Big Brother, o irmão observador bom e remoto que nos contempla de onde quer que seja e aonde quer que nós vamos. Orwell tece ao longo de um notável trabalho visionário, as consequências dos totalitarismos, por mais benfazejas que sejam as suas intenções. Li os dois livros fascinado com a imaginação visionária dos seus autores e a capacidade como ambos faziam refletir sobre cenários tão imponentes e absolutos para a espécie humana, mas cuja natureza utópica dava margem para pensar que, felizmente, nunca chegariam, e nunca disporíamos de todas aquelas maravilhosas e manipuladas aberrações. Hoje, graças às novas tecnologias, pela inteligência artificial e pela selva neoliberal, a realidade já fez o que eu considerava impossível − ultrapassou-os em absoluto, e isso não é nem traz boas notícias.
Na luta contra o novo coronavírus, a China tornou-se dupla notícia por ter estado na origem da pandemia (que ficará para sempre por esclarecer, e tem motivada inúmeras e não inocentes teorias), e também por ter sido o país que, depois de o vírus se ter dispersado copiosamente pelas cidades, melhor o soube controlar. Neste momento, na Europa, nos EUA e noutras regiões do mundo, esse asfixiar da pandemia ainda parece um cenário distante, apesar da luta que se trava e das emergências que se decretam e devemos cumprir. E como conseguiu a China chegar a esse “estado estável” que tornou a curva do seu gráfico de propagação da pandemia tão distinta das dos outros?
De onde pude obter informação fidedigna e válida, soube que o governo da China recorreu a toda a infantaria e cavalaria tecnológica de que dispõe, e que é muita. E, com esse arsenal complexo que envolve telemóveis, sistemas de localização GPS, bases de dados, metadados, monitorizações e algoritmos complexos e diversos, reconhecimentos faciais, cercas virtuais e câmaras de videovigilância por onde haja maior fluxo de pessoas; e com medidas espartanas e de restrições várias à liberdade de circulação ou com internamentos compulsivos, e recursos digitais altamente intrusivos na esfera das pessoas, conseguiu limitar, e muito, a prosperidade viral da Covid-19. A China passou a ver o rasto das pessoas contaminadas, identifica os que se encontram próximos e põe de quarentena compulsiva ou voluntária quem podia estar potencialmente infectado. No mundo ocidental, com restrições de ordem constitucional e mesmo com tradições culturais e mentalidades muito distintas, a aplicação deste freio radical é praticamente inexequível.
Há imensas críticas que se fazem ao império oriental, desde a forma como tudo começou, como ao modo como negligenciou as precauções e resguardos iniciais e agora à sua visão totalitária e “Big Brother”, com que se lançou ao país e onde a liberdade de cada cidadão esteve ao mesmo nível de direitos que os de uma perdiz no dia de abertura de caça.
O caso opõe a liberdade individual e a segurança do Estado, da sociedade e do coletivo. Em condições normais diríamos, sem pestanejar, que a liberdade é um bem essencial, absoluto e inalienável. Mas em situações excecionais, graves e dolorosas, como aquelas que o coronavírus trouxe para esta guerra mundial, parece que os cidadãos estão dispostos a desvalorizar e abdicar do “luxo” da liberdade pessoal e reinvesti-lo em meios em que o poder estatal possa defender a sociedade como puder e souber.
Manuel Fernandes Vicente