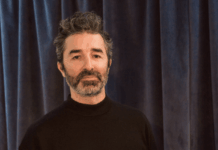Há um estojo em cima da mesa. Dentro dele, dezenas de lápis de cor — uns gastos, outros ainda por estrear. Há vermelhos vivos, azuis profundos, verdes esperança, amarelos sol, castanhos terra, pretos densos e brancos silenciosos. Há também cores que não têm nome, inventadas por mãos pequenas que ainda não aprenderam a escrever, mas já sabem desenhar o mundo.
As crianças não votam. Mas se votassem, talvez escolhessem quem lhes deixasse usar todas as cores. Quem não lhes dissesse que o azul é só para os meninos e o rosa só para as meninas. Quem não lhes apagasse o arco-íris com borrachas cinzentas de medo e desconfiança.
Vivemos tempos em que muitos adultos parecem ter voltado à televisão a preto e branco. Olham o mundo com contraste duro, sem gradações, sem mistura. É sim ou não. Nós ou eles. Como se a vida fosse um botão de volume, e não uma sinfonia.
Mas as crianças, essas, ainda pintam o céu de laranja com nuvens lilás. Ainda desenham mãos dadas entre bonecos de todas as cores. Ainda não aprenderam a desconfiar do tom da pele, do sotaque, da roupa ou da religião. Ainda não foram ensinadas a separar, a dividir, a rotular.
E é por isso que esta crónica não é sobre política. É sobre humanidade. Sobre o que perdemos quando deixamos de ver o outro como parte do nosso desenho.
Se é para haver uma nova narrativa, que seja a narrativa dos que acolhem. Dos que oferecem um lugar à mesa, um lápis novo, uma folha em branco. Dos que sabem que a segurança não se constrói com muros, mas com pontes. Dos que entendem que a paz social não nasce do silêncio, mas do diálogo.
Porque no final, o mundo que as crianças desenham é mais justo do que o que os adultos constroem. E talvez devêssemos perguntar: Em quem votariam elas? Talvez em quem lhes deixasse continuar a desenhar. Com todas as cores. Sem medo de errar. Sem medo de amar.
Ricardo Alves
Diretor EOL